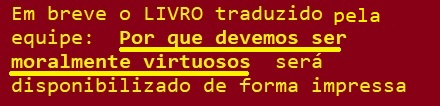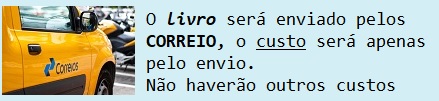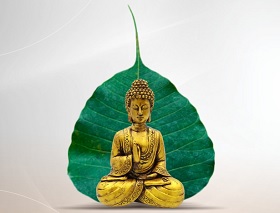Khemanando Bhikkhu
O leitor atento do Cânone Pāli é inevitavelmente confrontado com uma contradição desconcertante. Por um lado, os textos contêm afirmações categóricas que não deixam espaço para exceções: os pais são chamados Brahmās por seus filhos, não há forma mais cativante para um homem do que a forma de uma mulher, e Satipaṭṭhāna Sutta é declarado o único caminho para a libertação. Por outro lado, uma parte significativa do mesmo cânone é permeada por formulações cautelosas e probabilísticas: “pode acontecer que…”, “haja um momento em que…”, “é possível um caso em que…”.
Essa contradição se torna ainda mais pronunciada quando justapomos essas afirmações categóricas à realidade da experiência humana. A afirmação de que os pais são Brahmās parece problemática à luz da existência de pais cruéis e negligentes. A declaração sobre a atração natural entre sexos opostos não explica a existência da homossexualidade. Como, então, devemos entender esses textos?
A chave do enigma pode estar na própria natureza da transmissão dos textos budistas.
O Cânone Pāli foi transmitido oralmente por quatro a cinco séculos antes de ser escrito no Sri Lanka, no século I a.C. Uma tradição oral impõe exigências específicas à forma e ao conteúdo dos textos. Monges que memorizavam vastas quantidades dos ensinamentos precisavam de técnicas mnemônicas, fórmulas repetidas e padrões rítmicos. Em tais condições, declarações categóricas possuem uma vantagem inegável: são mais curtas, mais fáceis de memorizar e mais simples de reproduzir sem distorção.
O Papel da Oralidade e da Mnemônica
Imagine um monge que precisa memorizar um ensinamento extenso sobre honrar os pais. A versão completa desse ensinamento poderia incluir inúmeras advertências: o que fazer se os pais forem cruéis, como manter o respeito sem incitar suas ações prejudiciais, quais exceções são permitidas em situações extremas. No entanto, por meio da recitação repetida ao longo de gerações, essas nuances podem ter sido gradualmente podadas, restando apenas a fórmula central: “Os pais são os Brahmas”. Uma declaração tão concisa serve como uma âncora de memória, em torno da qual explicações adicionais, nem sempre capturadas no texto escrito, poderiam ter existido na tradição oral viva.
Suporte para essa hipótese pode ser encontrado na própria estrutura do cânone. Coletâneas curtas e aforísticas como o Udāna ou o Itivuttaka contêm declarações mais categóricas, enquanto os longos suttas dialógicos do Dīgha Nikāya e do Majjhima Nikāya demonstram muito mais nuances e condicionalidades. Talvez os textos breves representem “compressões” mnemônicas de ensinamentos mais complexos — uma espécie de título ou resumo — que sempre foram acompanhados por explicações orais na tradição viva.
Contradições dentro dos Suttas
O Satipaṭṭhāna Sutta é particularmente revelador nesse sentido. Começa com a afirmação absolutamente categórica: “Este é o único caminho para a purificação dos seres“. No entanto, ao final do mesmo sutta, encontramos uma gradação impressionante: a prática pode levar a resultados em sete anos, mas também pode levar seis, cinco, quatro, três, dois anos, um ano, sete meses… e em até sete dias. Essa variabilidade contradiz completamente a natureza categórica da afirmação inicial. Não seria mais lógico supor que o ensinamento original era mais sutil, mas a fórmula mnemônica no início do sutta preservou apenas seu “título promocional”?
O Mahākammavibhaṅga Sutta fornece um exemplo ainda mais convincente. Ele se dedica especificamente a refutar visões simplistas e categóricas sobre o kamma. O Buda explica em detalhes por que uma pessoa que cometeu atos prejudiciais pode renascer em condições favoráveis, e uma pessoa virtuosa em condições desfavoráveis. O amadurecimento do kamma depende de uma multiplicidade de fatores: tempo, intensidade das ações, presença de outro kamma “mais pesado” e o estado de espírito no momento da morte. Este sutta parece uma polêmica direta contra as fórmulas simplificadas que provavelmente circularam dentro da comunidade e que encontramos em outros textos mais breves.
Interpretação e Contexto Posteriores
Curiosamente, a tradição comentada posterior (Aṭṭhakathā) adiciona sistematicamente nuances e ressalvas às declarações categóricas do cânone. Os comentaristas podem ter restaurado o contexto oral perdido ou suavizado deliberadamente a natureza categórica excessiva dos textos, o que conflitava com a realidade observável. De qualquer forma, a própria necessidade de tais comentários aponta para a natureza problemática de uma leitura literal das fórmulas categóricas.
O fator sociológico também desempenhou um papel. A comunidade monástica precisava de regras de conduta claras e fáceis de lembrar para a vida diária. “Os pais são os Brahmas” funciona como uma regra mnemônica eficaz, especialmente para jovens monges que precisam assimilar princípios éticos básicos. Pedagogicamente, tal fórmula é mais eficaz do que um discurso extenso com inúmeras condições. Em uma cultura oral de aprendizagem………… , declarações categóricas serviam a propósitos práticos, mesmo que teoricamente exigissem muitas qualificações.
Uma Explicação Multifacetada
No entanto, seria um erro atribuir tudo apenas a distorções durante a transmissão oral. É inteiramente possível que o próprio Buda tenha usado conscientemente ambos os estilos, dependendo do público e do contexto. Sermões públicos para leigos exigiam formulações claras e memoráveis. Conversas com monges e discípulos avançados permitiam análises mais sutis. Os diferentes gêneros de suttas podem refletir esses contextos variados de transmissão dos ensinamentos.
Além disso, o trabalho editorial nos concílios budistas (que somam QUATRO até o momneto) pode ter desempenhado um papel na formação do cânone. Monges que sistematizaram os ensinamentos podem ter intencionalmente fortalecido a natureza categórica de algumas formulações para criar uma doutrina mais ortodoxa e unificada. O processo de canonização sempre envolve um elemento de seleção e padronização que pode suavizar a diversidade original dos ensinamentos.
A explicação mais convincente provavelmente reside na combinação de todos esses fatores. Em parte, nuances foram de fato perdidas na transmissão oral e no processamento mnemônico. Em parte, o próprio Buda utilizou estratégias pedagógicas diferentes. Em parte, editores posteriores moldaram conscientemente os textos de acordo com as necessidades da comunidade. O resultado é um cânone que contém tanto afirmações categóricas quanto textos que consistentemente minam qualquer natureza categórica dogmática.
Implicações para o Praticante Moderno
Para o praticante moderno, essa observação tem consequências importantes. Ela alerta contra uma leitura literal de afirmações categóricas, especialmente quando elas entram em conflito com a realidade observável ou com partes mais sutis do mesmo cânone. Em vez disso, deve-se procurar suttas paralelos que possam preservar ressalvas perdidas. O Kālāma Sutta encoraja a pessoa a testar o ensinamento por meio da própria experiência, em vez de seguir cegamente a autoridade dos textos. O princípio da atenção sábia (yoniso manasikāra) exige reflexão crítica, não a aceitação mecânica de fórmulas.
Muitos professores budistas modernos entendem intuitivamente esse problema e interpretam afirmações categóricas como descrições de normas estatísticas ou ideais pedagógicos, em vez de verdades absolutas sem exceções. “Não há forma mais cativante para um homem do que a forma de uma mulher” pode ser lido como uma descrição do que é verdadeiro para a maioria, ou como um alerta sobre a fonte mais comum de apego sensual para a maioria heterossexual na comunidade monástica. Isso não nega a existência de exceções, mas apenas aponta para o padrão predominante.
Em última análise, essa contradição entre afirmações categóricas e nuances dentro do cânone pode ser vista não como uma falha, mas como um convite a uma relação mais madura com os textos. O budismo não oferece respostas prontas para serem aceitas cegamente, mas sim um conjunto de ferramentas para investigar a realidade. Fórmulas categóricas servem como pontos de partida, suportes mnemônicos, mas a prática viva sempre requer adaptação a circunstâncias específicas. O próprio fato de o cânone conter tantos suttas não categóricos — com seus “pode ser” e “um caso é possível” — nos lembra que o Dhamma não é um sistema dogmático rígido, mas um método flexível de libertação que deve ser aplicado com sabedoria e compreensão criteriosa.