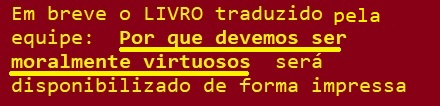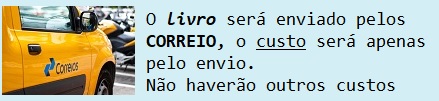Rupert Gethin – escritor
A história do monge viajante no Kevaddha Sūtta é de fato uma parábola muito precisa do pensamento budista.
Entender a natureza de duḥkha é precisamente alcançar os limites do mundo. Em última análise, o monge na história é direcionado para a natureza da mente em si, pois é aqui que o segredo do surgimento do mundo, da cessação do mundo e do caminho que leva à cessação do mundo deve ser encontrado. Assim, embora de uma perspectiva particular a elaborada cosmologia delineada no capítulo anterior represente de fato a descrição budista completa de duḥkha, no entanto, é na análise da experiência individual do mundo – este corpo de uma braça de comprimento com suas percepções e mente – que a natureza última de duḥkha deve ser penetrada. Neste capítulo, desejo me voltar para os princípios básicos dessa compreensão budista de nossa experiência individual do mundo e da consciência e seu funcionamento.
A crítica budista da noção de ‘EU‘ ou Ātman está enraizada em um contexto histórico específico e inicialmente direcionada a entendimentos particulares da noção de EU. A evidência de fontes bramânicas, jainistas e budistas aponta para a existência no norte da Índia do século V a.C. de uma variedade considerável de visões e teorias sobre a natureza última do indivíduo e seu destino. Entre as questões que os primeiros textos bramânicos conhecidos como Upanishads buscam explorar estão: a quem ou o que as várias experiências e partes de um ser pertencem; quem ou o que as controla; qual é a natureza última do eu de um ser. O termo padrão que os Upanishads usam para o ‘EU‘ em sua natureza última é atman, que; embora também empregado como a palavra comum para ‘EU‘ em sânscrito, pode etimologicamente ser derivado de uma palavra que originalmente significa ‘respiração’. Para os primeiros Upanishads, como o Brhadaral}yaka e o Chandogya (século VI a.C.), o EU em sua natureza última é uma entidade misteriosa e inapreensível; é o vidente invisível, o ouvinte não ouvido, o pensador não pensado, o conhecedor desconhecido; é o controlador interno; é o que é imortal em nós. Embora seja muito mais fácil dizer o que não é do que especificá-lo concretamente, certas coisas bem definidas podem ser ditas sobre ele. Este self metafísico final é a constante imutável subjacente a todas as nossas experiências variadas e instáveis. Como tal, é indestrutível e, em última análise, não afetado por nenhuma experiência específica e muito além do sofrimento:
O Eu não é isso e não aquilo. Inapreensível, certamente não é agarrado; indestrutível, certamente não é destruído, sem apego, certamente não é agarrado; desamarrado, não sofre nenhum dano, não sofre.
Além disso, o atman imortal e indestrutível que é o eu supremo é, de acordo com os primeiros Upanishads, identificado com o fundamento subjacente de toda a realidade conhecido como brāhmane. Na análise final, eu não sou algo diferente do fundamento subjacente do próprio universo. Esta é a famosa equação Upanishads de atman e brāhmane.
Esta não parece ser a única noção de atman conhecida nos textos budistas. No pensamento indiano posterior, encontramos o conceito de uma pluralidade de “eus” eternos e imutáveis, cada um correspondendo de alguma forma a seres individuais no mundo. Tal ensinamento é característico das escolas indianas de filosofia conhecidas como Sarp.khya e Yoga e parece ser prefigurado no Upanishads de Svetasvatara. O que temos, então, nas noções do atman universal e individual é uma suposição de um eu imutável e constante que de alguma forma fundamenta e é a base para a variedade de experiências mutáveis; além disso, esse eu imutável deve ser identificado como o que somos em última análise e como além do sofrimento. É essa compreensão geral do eu que o pensamento budista inicial busca examinar e questionar. Embora esse contexto histórico específico dite os termos de referência, não deixa de ser o caso de que as questões levantadas pela crítica budista do eu tocam em problemas universais de identidade pessoal. Nosso uso linguístico cotidiano de termos como “EU” equivale, na prática, a uma compreensão do self como precisamente uma constante imutável por trás das experiências. Assim, quando alguém declara: “Eu estava me sentindo triste, mas agora estou me sentindo feliz”, ele ou ela implica pelo termo “eu” que há uma coisa constante e imutável que subjaz e liga as experiências bastante diferentes de felicidade e tristeza.
O uso linguístico e, sem dúvida, certas circunstâncias emocionais e psicológicas nos predispõem a uma compreensão da identidade pessoal e da individualidade em termos de um “EU” que existe como um indivíduo autônomo e que tem várias experiências. Dessa forma, presumo – talvez inconscientemente – que, embora minhas experiências possam variar, há algo – EU – que permanece constante. Em outras palavras, só faz sentido falar em termos de minhas experiências se houver um “EU” constante que possa de alguma forma ser considerado à parte e separadamente dessas experiências. É nessa estrutura conceitual que o pensamento budista começa a fazer várias perguntas sobre a natureza do “eu”, o EU constante e imutável subjacente à experiência.
Uma tarefa que o pensamento budista tenta é uma análise descritiva da natureza da experiência, ou, para simplificar, do que parece estar acontecendo o tempo todo. Este exercício é de fato uma das preocupações do pensamento budista e oferece uma série de maneiras de analisar a natureza da experiência que são integradas nos complexos sistemas Abhidhamma das escolas desenvolvidas do pensamento budista. Talvez a análise mais importante da experiência individual encontrada nos primeiros textos e transportada para o Abhidhamma seja um relato em termos dos cinco “agregados” ou “grupos” (khandhās) de eventos físicos e mentais.
A lista e a descrição dos cinco khandhās representam uma resposta a perguntas como: o que é um ser? o que está acontecendo? o que há? Em primeiro lugar, posso dizer que pareço ter um corpo com cinco sentidos de visão, audição, olfato, paladar e tato.
Existe então o mundo físico, o que os textos budistas chamam de “forma” (rupa). Em segundo lugar, há uma variedade de atividade mental acontecendo, muito dela em resposta direta aos vários estímulos físicos. Assim, minhas experiências produzem continuamente em mim sentimentos agradáveis, desagradáveis ou indiferentes (vedanā). Também estou continuamente classificando e classificando minhas experiências de modo que, confrontado por vários estímulos sensoriais, possa haver reconhecimento (saññā) de algo como uma “maçã” ou uma “xícara de chá”.
Além disso, minhas experiências parecem provocar vários desejos, vontades e tendências – “forças” ou “formações” volitivas (saṅkhāra); assim, se percebo uma maçã quando estou com fome, desejos muito fortes podem surgir, o que pode me levar a ser incapaz de resistir a estender a mão e pegá-la; de fato, dadas uma variedade de circunstâncias, as emoções produzidas em resposta às minhas experiências podem levar a todos os tipos de ações, do auto-sacrifício ao assassinato cruel. Finalmente, podemos dizer que há uma autoconsciência básica (viññaṇa) – uma consciência de nós mesmos como sujeitos pensantes tendo uma série de percepções e pensamentos.
Dessa forma, minha experiência individual pode ser analisada como consistindo de vários fenômenos que podem ser convenientemente classificados como formando cinco coleções ou agregados: fenômenos corporais, sentimentos, rotulação ou reconhecimento, atividades volitivas e percepção consciente.
O pensamento budista apresenta esses cinco agregados como uma análise exaustiva do indivíduo. Eles são o mundo para qualquer ser dado — não há nada além disso. A questão agora surge se qualquer instância dada desses cinco grupos de fenômenos pode se qualificar como um “EU” — uma experiência subjacente imutável e constante. Steven Collins efetivamente identifica três argumentos para a negação do self nos primeiros textos budistas.
Uma das caracterizações upanissadicas do EU era como o “controlador interno”, e o primeiro argumento empregado é que, na verdade, não temos controle final sobre nenhum dos cinco agregados:
O corpo não é um EU. Se o corpo fosse um Eu, então poderia ser que não levasse à doença; então seria possível dizer: “Deixe meu corpo ser assim, que meu corpo não seja assim”. Mas, como o corpo não é um EU, então ele leva à doença, e não é possível dizer: “Deixe meu corpo ser assim, que meu corpo não seja assim”.
O mesmo pode ser dito sobre sentimento, reconhecimento, volições e percepção consciente. É simplesmente ridículo tomar coisas que estão ligadas à mudança e à doença, e sobre as quais não temos controle final como EU.
Um segundo argumento contra o EU pode ser encontrado na seguinte troca entre o Buda e seus monges, que ocorre frequentemente nos primeiros textos budistas, às vezes reforçando o argumento da falta de controle. O Buda perguntou:
‘O que vocês acham, monges? Corpo… sentimento… reconhecimento… volições… consciência são permanentes ou impermanentes?’ ‘Impermanentes, senhor.’ Responderam os monges.
‘Mas algo que é impermanente é doloroso ou indolor?’
‘Doloroso, senhor.’
‘Mas é apropriado considerar algo que é doloroso, cuja natureza é mudar como “isso é meu, eu sou isso, isso é meu EU”?’
‘Certamente não, senhor.’
‘Portanto, monges, todo corpo… sentimento… reconhecimento… volições
… consciência consciente, seja ela passada, presente ou futura, seja grosseira ou sutil, inferior ou refinada, distante ou próxima, deve ser vista por meio de entendimento claro como realmente é, como “isso não é meu, eu não sou isso, isso não é meu EU”.
Que algo que é impermanente deve ser considerado ‘doloroso’ (dukkha) segue, é claro, de princípios que já encontramos expressos na segunda das quatro nobres verdades: se nos apegarmos e tentarmos nos apegar a coisas que inevitavelmente mudarão e desaparecerão, então estamos fadados a sofrer.
Este argumento também parece ser direcionado diretamente à noção upanssádica inicial do eu como um absoluto imutável e eterno que é livre de todo sofrimento; na frase ‘isso não é meu, eu não sou isso, isso não é meu eu’ parece haver um eco deliberado e refutação do Chandogya Upanissad ‘este é o EU, isso é o que você é’.
Um terceiro argumento centra-se na falta de sentido do termo “EU” à parte de experiências particulares. Existem três possibilidades: deve-se considerar o self como o mesmo que a experiência, ou deve-se considerar o self como algo à parte da experiência, ou deve-se considerar o self como tendo o atributo da experiência.
Mas nenhuma dessas maneiras de ver o EU é coerente. O primeiro método, ao falhar em distinguir o EU de experiências mutáveis, acaba com um EU que muda continuamente conforme nossas experiências mudam; mas um EU, por definição, é algo que não muda conforme as experiências mudam, é a coisa imutável por trás dessas experiências. O segundo método também não faz sentido, pois (em uma espécie de inversão do cartesiano “penso, logo existo”), à parte das experiências, como alguém pode pensar em si mesmo como existente? Então ficamos com a terceira possibilidade, a saber, um EU que é algo diferente da experiência, mas não sem experiência; um EU que experimenta ou tem o atributo da experiência. Tal EU ainda deve, em algum sentido, ser distinguível das experiências, mas não há base sobre a qual fazer tal distinção, uma vez que continua sendo verdade que, além de experiências particulares, não é possível pensar em si mesmo como existente.
A essência da crítica budista à noção de “EU” é então esta. Não se pode negar que há um complexo de experiências acontecendo; isso pode ser convenientemente analisado por meio dos cinco agregados. Mas onde precisamente em tudo isso está o self constante e imutável que está tendo todas essas experiências? O que encontramos quando introspectamos, o Buda sugere, é sempre algum dado sensorial particular, algum sentimento particular, alguma ideia particular, algum desejo ou vontade particular, alguma consciência de algo particular. E todos esses estão constantemente mudando de um momento para o outro; nenhum deles permanece por mais do que um mero momento. Assim, além de alguma experiência particular, eu nunca realmente me deparo ou experimento diretamente o “eu” que está tendo experiências. É algo totalmente evasivo. Isso parece suspeito.
Como posso saber que está lá? Pois é impossível conceber a consciência à parte de todos esses detalhes particulares de mudança, e se abstrairmos todos os detalhes particulares da consciência, não ficamos com um “self” constante e individual, mas um vazio, um nada.
Os primeiros Upanishads reconheceram que o EU era algo como uma entidade misteriosa e incompreensível, mas – e aqui o pensamento budista apresenta seu desafio – talvez sua natureza seja realmente tão misteriosa e incompreensível que não faça nenhum sentido coerente. Assim, o pensamento budista sugere que, como indivíduo, sou um fluxo complexo de fenômenos físicos e mentais, mas retire esses fenômenos e olhe para trás deles e simplesmente não se encontra um self constante que se possa chamar de seu. Meu senso de self é, tanto lógica quanto emocionalmente, apenas um rótulo que imponho a esses fenômenos físicos e mentais em consequência de sua conexão. Em outras palavras, a ideia de self como uma coisa constante e imutável por trás da variedade de experiências é apenas um produto do uso linguístico e da maneira particular em que certos fenômenos físicos e mentais são vivenciados como conectados.
Um antigo texto budista, o Milindapañhā (‘Perguntas de Milinda’) registra o encontro de um monge budista e o rei grego bactriano local, Milinda ou Menandro. O monge se apresenta como Nāgasena, mas então acrescenta que este é apenas um rótulo conveniente, pois na realidade nenhuma “pessoa” pode ser encontrada. O rei fica confuso e acusa o monge de falar bobagens. Nāgasena então pergunta como o rei chegou a este eremitério, e o rei responde que ele veio em uma carruagem. “Mas o que é uma carruagem?”, pergunta Nāgasena. É o mastro? É o eixo? São as rodas, ou a estrutura, ou o jugo, ou as rédeas? O rei Milinda é forçado a admitir que não é nada disso. No entanto, ele persiste, não é sem sentido falar de uma ‘carruagem’, pois o termo é usado como um rótulo conveniente em dependência de mastro, eixo, rodas, estrutura, jugo, rédeas, etc. Da mesma forma, responde Nāgasena, não é sem sentido falar de
‘Nāgasena’, pois termos como ‘Nāgasena’ ou ‘ser’ são usados como rótulos convenientes quando todos os constituintes relevantes – os cinco agregados – estão presentes, mas não existe algo independente como ‘Nāgasena’ ou ‘um ser’.
A linguagem e o fato de que as experiências estão de alguma forma conectadas nos enganam a pensar que há um “EU” além e por trás das experiências mutáveis – além do fato de as experiências estarem conectadas. Na realidade, como veremos em breve, para o pensamento budista há apenas sua “conectividade” – nada além disso. O fato de que as experiências são causalmente conectadas não deve ser explicado por referência a um eu imutável que fundamenta a experiência, mas examinando a natureza da causalidade.
O problema da continuidade pessoal: o EU como “conectividade causal”
Vimos como o pensamento budista critica o conceito de um eu imutável como incoerente; no entanto, tanto os críticos antigos quanto os modernos argumentaram que acabar com o eu à maneira do pensamento budista de fato cria problemas filosóficos e morais intransponíveis. Como os fatos vivenciados da continuidade pessoal – afinal, sou eu quem me lembro de acordar esta manhã e ir às lojas, não você – podem ser contabilizados? Novamente, central para a visão de mundo budista é a noção de renascimento, mas certamente para que isso seja significativo alguma parte de uma pessoa deve permanecer constante e renascer, que é precisamente o que o ensinamento do não-EU parece negar. Além disso, se não há um eu, todo o fundamento da moralidade não está minado?
Se eu não sou a mesma pessoa que roubou o banco ontem, como posso ser responsabilizado? De fato, o ensinamento do não-EU não retorna a vida sem sentido e não equivale a uma doutrina de niilismo? Por sua vez, o pensamento budista afirma ter respostas adequadas para essas perguntas e sempre negou categoricamente a acusação de que é uma espécie de niilismo. As respostas a essas perguntas devem ser todas, de uma forma ou de outra, referidas ao entendimento budista particular da maneira como as coisas são causalmente conectadas.
Vimos como o pensamento budista divide um indivíduo em cinco classes de eventos físicos e mentais conhecidos como khandhās ou ‘agregados’. Mas a lista de cinco agregados representa apenas uma das várias maneiras possíveis de analisar os constituintes de um ser. Uma análise alternativa vê o indivíduo como compreendendo doze ‘esferas’ (āyatana): os seis sentidos (cinco sentidos físicos e mente) e as seis classes de objeto desses sentidos; uma variação disso fala de dezoito ‘elementos’ (dhātu): seis sentidos, seis classes de objeto dos sentidos e seis classes de consciência. Para o pensamento budista, os eventos físicos e mentais que compõem um ser e suas experiências podem ser analisados, agrupados e vistos de várias perspectivas diferentes. Mas qualquer que seja a perspectiva, a preocupação é mostrar que eventos físicos e mentais ocorrem em vários relacionamentos entre si. Como tal, eventos ou fenômenos físicos e mentais são denominados dharmas (Dhamma em Pāli). Este é um termo cuja discussão completa deve ser reservada para o Capítulo 7, mas pode ser definido no contexto atual como um ‘evento’ ou ‘realidade’ final que, em combinação com outros eventos ou realidades finais, constitui a base da realidade como um todo. A ocorrência de eventos físicos e mentais não é apenas arbitrária ou aleatória; pelo contrário, há uma relação profunda e real de conexão causal entre eventos ou fenômenos. E é a preocupação com a natureza dessa conexão causal que está no cerne da filosofia budista e que é vista como validando toda a prática budista.
Uma história conta que a introdução do andarilho Sāriputta aos ensinamentos do Buda foi na forma de um verso resumido recitado a ele pelo monge Asvajit:
Daqueles dharmas que surgem de uma causa, o Tathāgata declarou a causa e também a cessação; tal é o ensinamento do Grande Asceta.
Ao ouvir este verso, Sāriputta imediatamente obteve uma profunda percepção do Dharma, embora ele não se tornasse um Arahant desperto por mais quinze dias. O verso, portanto, encapsula os ensinamentos do Buda e, como tal, declara o segredo da cessação do sofrimento – se pudéssemos entendê-lo. A tradição budista posterior considerou este verso como possuidor de uma potência quase mágica, e nos tempos antigos, por todo o mundo budista, ele era inscrito em tijolos, placas de metal e imagens para fazer um amuleto protetor que poderia ser usado ou consagrado em stūpas.
Outra fórmula sucinta afirma o princípio da causalidade (idam-pratyayata) como ‘este existente, aquilo existe; este surgir, aquilo surge; este não existente, aquilo não existe; este cessar, aquilo cessa’. Mas a declaração mais importante da compreensão budista de como a causalidade opera é em termos dos doze elos (Nidana) da cadeia de ‘Originação Dependente’ (Paṭiccasamuppāda):
Condicionado por (1) ignorância são (2) formações, condicionado por formações é (3) consciência, condicionado por consciência é (4) mente-e-corpo, condicionado por mente-e-corpo são (5) os seis sentidos, condicionado pelos seis sentidos é (6) contato sensorial, condicionado por contato sensorial é (7) sentimento, condicionado por sentimento é (8) desejo, condicionado por desejo é (9) apego, condicionado por apego é (10) tornar-se, condicionado por tornar-se é (11) nascimento, condicionado por nascimento é (12) velhice e morte-pesar, lamentação, dor, tristeza e desespero vêm a ser. Assim é o surgimento de toda essa massa de sofrimento.
Parte do capitulo SEIS do livro FUNDAMENTOS DO BUDISMO, do autor RUPERT GETHIN (1998, Oxford University Press) caso tenha interesse em ler parte deste capítulo que já temos traduzido escreva para: edmirterra@gmail.com que mandaremos o material sem custo.