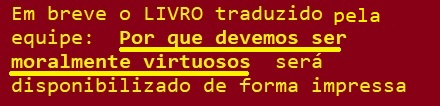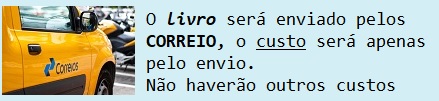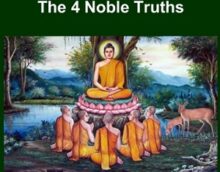Entrevista por Gary Gutting (New York Times)
Gary Gutting: A filosofia da religião costuma se concentrar em debates sobre as tradições monoteístas, especialmente o cristianismo. Como essa discussão se transforma quando incluímos o budismo — uma tradição não teísta — como modelo principal? Um viés etnocêntrico pode nos impedir de enxergar aspectos essenciais das religiões não abraâmicas.
Jay Garfield: O que chamamos de “filosofia da religião” nos círculos acadêmicos ocidentais é, na verdade, a filosofia das religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Muitas das questões levantadas nesse campo são irrelevantes para outras tradições religiosas. Ainda assim, filósofos frequentemente presumem que todas as religiões seguem um padrão semelhante ao das abraâmicas, chegando a questionar se tradições como o budismo podem sequer ser classificadas como “religiões” por não se encaixarem nesse molde. Isso revela um etnocentrismo perigoso, que obscurece realidades importantes.
Recentemente, em um debate em Singapura, o filósofo A.C. Grayling argumentou que o budismo não é uma religião porque não envolve a crença em um ser supremo. Essa visão ignora que muitas religiões não são teístas. Seria como dizer que o xadrez não é um jogo só porque não se usa uma bola.
Ao estudar o budismo, porém, é preciso cautela. Ele existe há dois milênios e meio, manifestando-se em diversas escolas, práticas e interpretações doutrinárias. Generalizações são arriscadas: agrupar um monge Theravada do Sri Lanka com um praticante leigo do Zen em São Francisco seria tão equivocado quanto tratar unitaristas e católicos como um bloco monolítico. Além disso, não há uma autoridade central que unifique todas as vertentes budistas.
Ainda assim, algumas características são amplamente compartilhadas e desafiam a filosofia da religião tradicional. Por exemplo, como o budismo é ateísta, ele não se ocupa da existência ou dos atributos de Deus — temas centrais nas religiões abraâmicas. Em vez disso, os budistas focam no despertar (o estado de Buda):
- Quão difícil é alcançá-lo?
- Como é a experiência do despertar?
- Um Buda permanece consciente do mundo ou o vê como ilusório?
Outras preocupações incluem a relação entre realidade convencional e realidade última: o mundo é fundamentalmente real ou ilusório? Como conciliar ensinamentos canônicos aparentemente contraditórios? Qual a natureza do “EU” e sua conexão com processos psicofísicos? Se a filosofia da religião partisse dessas questões, seu escopo seria radicalmente diferente.
Gary Gutting: Diante dessas características, como você definiria, em linhas gerais, “ser budista”?
Jay Garfield: Ser budista é refugiar-se nas Três Joias: o Buda, o Dhamma e o Sangha. Esse refúgio surge do reconhecimento de que a existência humana é marcada pela insatisfação (dukkha) e de que apenas as Três Joias oferecem uma saída.
- O Buda: A certeza de que pelo menos um ser — Siddhartha Gautama — atingiu o despertar e a libertação do sofrimento. Isso inspira a esperança de que, através da prática, outros também possam alcançar uma vida plena.
- O Dhamma: O conjunto de ensinamentos que guia a transformação interior.
- O Sangha: A comunidade espiritual, seja como rede de praticantes, ordem monástica ou grupo de seres iluminados. O despertar não é um projeto solitário, mas coletivo.
Gary Gutting: Os primeiro e terceiro refúgios parecem ligados a um modo de vida, justificado por seus resultados na redução do sofrimento. Mas o que exatamente envolve o segundo refúgio, o Dhamma?
Jay Garfield: O alicerce doutrinário comum a todas as escolas budistas são as Quatro Nobres Verdades, expostas por Sidarta Gautama em seu primeiro discurso após atingir o despertar. A primeira verdade afirma que a existência é intrinsecamente marcada pela insatisfação (dukkha), manifesta em sofrimentos como dor, envelhecimento, morte e a impotência diante do imprevisível. A segunda identifica a origem desse sofrimento no apego e na aversão — desejar o inalcançável e rejeitar o inevitável —, impulsos que surgem de uma incompreensão fundamental sobre a natureza da realidade e de uma postura egocêntrica perante o mundo. A terceira propõe que a erradicação dessas causas, por meio do insight metafísico, extingue o sofrimento. A quarta delineia o Nobre Caminho Óctuplo, um conjunto de práticas para concretizar essa libertação.
Gary Gutting: Assim, o modo de vida budista se fundamenta em duas premissas plausíveis: a constatação de que o sofrimento permeia a existência e uma análise psicológica de suas causas. Mas qual é a “visão metafísica” que revela o caminho para superá-lo?
Jay Garfield: A metafísica budista destaca três características universais:
- Impermanência (anicca): todos os fenômenos são transitórios, ainda que os tratemos como permanentes;
- Interdependência (pratītyccasamupāda): tudo existe em relação mútua, embora o percebamos como independente;
- Não-EU (anātman): não há identidade intrínseca em seres ou objetos, apesar de agirmos como se existissem.
Além disso, muitas escolas desenvolvem sistemas metafísicos complexos — sobre Dhammas (constituintes últimos da realidade), a natureza da consciência ou cosmologias —, com variações significativas entre tradições. Vale notar que, como no Cristianismo, há um abismo entre o budismo popular, centrado em rituais, e o acadêmico, voltado à reflexão doutrinária. Metáforas para eruditos podem ser literais para leigos.
Gary Gutting: E o renascimento, doutrina tão associada ao budismo? Considerando a impermanência radical, poderíamos dizer que “renascemos” a cada instante.
Jay Garfield: Prefiro “renascimento contínuo” ao termo “reencarnação”, que pressupõe uma alma permanente, conceito rejeitado pelo budismo. Na verdade, a ideia de um “EU” estável desmorona ante a impermanência: somos fluxos de processos interdependentes que se reconfiguram a cada momento.
O budismo surgiu na Índia, onde a transmigração entre vidas biológicas era amplamente aceita naquela época. Muitas tradições budistas mantêm essa visão, estendendo a causalidade entre estágios de uma vida para vidas passadas e futuras. Para alguns, isso é essencial; já nas escolas do Leste Asiático e entre budistas ocidentais, muitas vezes é ignorado ou rejeitado.
Gary Gutting: Como o budismo enxerga outras religiões? Há uma aparente contradição entre a tolerância à diversidade e o histórico missionário de conversão.
Jay Garfield: Exatamente. É importante ressaltar que não devemos tomar as tradições abraâmicas como paradigma universal para analisar essa questão. Enquanto essas religiões proíbem veementemente o sincretismo — a fusão de elementos de diferentes credos —, essa postura não é representativa da maioria das tradições religiosas globais. O budismo, por exemplo, frequentemente coexiste harmoniosamente com outras crenças. No Japão, é comum a prática simultânea do budismo e do xintoísmo; no Nepal, muitos integram rituais budistas e hindus; na China, taoísmo, confucionismo e budismo se entrelaçam sem conflitos. Até mesmo figuras como Thomas Merton, padre católico, abraçaram práticas budistas sem abandonar sua fé original.
No entanto, é crucial lembrar que o budismo sempre teve um caráter missionário. Os budistas acreditam que seus ensinamentos podem aliviar o sofrimento humano e, por isso, incentivam sua disseminação. Essa expansão pode exigir a reavaliação de outras crenças, resultando ora em integração pacífica, ora em tensão criativa — mas raramente em exclusão dogmática.
Gary Guting: Consigo imaginar missionários budistas defendendo com eloquência suas práticas meditativas e sua ética compassiva. Porém, doutrinas como a do renascimento — que, se verdadeiras, revolucionariam nossa compreensão da existência — parecem-me profundamente implausíveis. Como os budistas justificam essa ideia?
Jay Garfield: A resposta varia conforme a tradição. Alguns budistas nem sequer a defendem: no Sul da Ásia, ela é muitas vezes aceita como óbvia; já no Leste Asiático ou no Ocidente, muitos a consideram secundária. Outros, porém, apresentam argumentos. Um deles, comum no Tibete, baseia-se em evidências empíricas — como casos de crianças que alegam lembrar de vidas passadas com detalhes verificáveis, ou a identificação de reencarnações de lamas, como o Dalai Lama.
Gary Guting: Suspeito que quem não cresceu imerso nessa cultura dificilmente encontrará tais relatos convincentes.
Jay G.arfield Há alternativas filosóficas. Dharmakīrti, por exemplo, argumenta que a crença no renascimento é necessária para a prática budista mahayana, ainda que não seja comprovável. Segundo ele, a meta do despertar é tão distante que só faria sentido persegui-la com a convicção de existirem vidas futuras para continuar o caminho. É análogo ao argumento de Emmanuel Kant sobre o livre-arbítrio: não o provamos, mas agimos como se ele existisse, porque essa crença é indispensável à vida ética.
Gary Guting.: Kant foi amplamente criticado. Você endossa a visão de Dharmakīrti?
Jay Garfield: Não totalmente. Já critiquei esse raciocínio por confundir comprometer-se com a ideia de vidas futuras com acreditar na própria reencarnação. Contudo, ele aponta para algo relevante: no mahayana, a aspiração pelo despertar não precisa ser egocêntrica. Assim como um pedreiro medieval trabalhava na catedral sabendo que não a veria concluída, um praticante pode dedicar-se ao despertar mesmo sem crer que o testemunhará. O foco está no legado, não na permanência individual.
Isso sugere uma reinterpretação da doutrina: encarar o “renascimento” como metáfora para nossa conexão com o passado coletivo (que nos molda) e com o futuro (que construímos). Essa visão dialoga com noções modernas como justiça intergeracional ou reparação histórica — mostrando como o budismo pode se adaptar sem perder sua essência.
À medida que o budismo se globaliza, veremos se doutrinas como essa persistem, se transformam ou se dissipam. Sua história, porém, prova uma constante: ele redefine — e é redefinido por — cada cultura que abraça.
Gary Guting: A negação fundamental de um “EU” não será difícil de sustentar diante da ênfase moderna na individualidade?
Jay Garfield: Creio que não. Em primeiro lugar, a ideia de que não existe um “EU” substancial também tem raízes no pensamento ocidental, como em Hume e Nietzsche. Em segundo lugar, muitos cientistas cognitivos e filósofos contemporâneos rejeitam a noção de um “EU” essencial ou defendem concepções minimalistas dele. Portanto, essa perspectiva está mais disseminada no mundo não budista do que se poderia supor.
E isso pode ser positivo — não apenas do ponto de vista metafísico. Um senso exacerbado de “EU”, baseado na crença em uma identidade substancial, singular e independente dos outros, pode ser psicologicamente e moralmente prejudicial. Tal visão tende a alimentar o egoísmo, o narcisismo e a negligência em relação ao próximo. Assim, a ênfase moderna na individualidade, que você menciona, talvez não seja tão benéfica quanto parece. Seríamos melhores se cada um de nós se levasse menos a sério como um “EU” autônomo. Essa é, talvez, uma das críticas mais relevantes que o budismo oferece à modernidade — e uma de suas contribuições à pós-modernidade.
De modo mais construtivo, a tradição budista nos convida a nos compreendermos como seres impermanentes e interdependentes, conectados uns aos outros e ao mundo por meio de compromissos compartilhados: a busca pela compreensão da vida e a redução do sofrimento. Ela nos inspira a transcender o egoísmo e a adotar uma postura de cuidado e responsabilidade coletiva. E isso, certamente, não pode ser algo ruim.